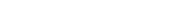Winston acorda, levanta da cama e liga a TV para fazer uma aula de ginástica. Depois do alongamento, a professora pergunta quem consegue tocar a ponta dos pés sem dobrar os joelhos. “Só a cintura. Um-dois! Um-dois!”, diz. Smith tenta, mas fracassa. Do outro lado da tela, a mulher o adverte: “Smith! Incline-se mais, por favor. Você pode fazer mais do que isso. Mais baixo. Assim está melhor. Agora, todo mundo, descansar!”.
Em meio à pandemia de coronavírus, muita gente começou a fazer exercícios em casa com vídeos do YouTube. Mas o episódio acima tem mais de 70 anos. Foi escrito por George Orwell em 1948, quando surgiam as primeiras TVs, muito antes da internet. No romance 1984, o Estado usa “teletelas” para transmitir propaganda política (e, também, aulas de ginástica) o dia inteiro – e monitora seus cidadãos 24 horas por dia.
Quando a pandemia de coronavírus for superada, nascerá um novo mundo. Política, economia, saúde, ciência, relações humanas: muita coisa não será como antes. É bem provável, por exemplo, que você seja monitorado em tempo real pelo Estado, que usará dados para determinar o que você poderá ou não fazer. É algo que nem a fértil imaginação de Orwell pôde conceber – mas tem tudo para acontecer. Inclusive porque já está acontecendo.
Em 2009, o governo chinês começou a desenvolver um projeto chamado “Sistema de Crédito Social”. Ele entrou no ar, em versão limitada, em 2014 – e ganhou contornos mais amplos, com regras mais duras, a partir de 2019.
Funciona assim: cada cidadão recebe uma pontuação inicial, que aumenta ou diminui conforme sua conduta. Ganha pontos quem vai bem nos estudos, doa sangue ou faz serviço voluntário, por exemplo. Perde pontos quem atravessa a rua fora da faixa, passeia com o cachorro sem coleira ou atrasa o pagamento de impostos. A China usa 200 milhões de câmeras de vigilância, conectadas a um sistema de reconhecimento facial, para coletar dados sobre o comportamento de cada cidadão. “Lembra um pouco a cultura dos escoteiros, com seus valores sociais. Mas, no mundo digital, eu diria que é a gamificação da vida”, afirma Gil Giardelli, professor da ESPM e membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro (WFSF), sediada em Paris.
Um escore alto facilita a vida para financiar um imóvel, alugar um carro, conseguir melhores empregos ou entrar numa boa universidade. Uma pontuação baixa pode restringir o acesso a serviços públicos e proibir a pessoa de viajar – até junho de 2019, segundo o governo chinês, 26 milhões de passagens aéreas e 6 milhões de passagens de trem foram negadas a pessoas que tinham baixa pontuação (elas possuíam dinheiro para adquirir os bilhetes, mas foram impedidas de comprá-los).


Com o surgimento da pandemia, os cidadãos foram obrigados a baixar um novo app, o Alipay Health Code, que mescla dados do seu histórico de saúde e dos lugares onde você esteve para avaliar o seu risco de estar infectado. Ele atribui um QR code, e uma cor, a você – que tem de mostrar o código antes de pegar transporte público, entrar em lojas ou, em alguns casos, até sair do seu apartamento. Se o status for verde, você tem permissão para circular em locais públicos. Amarelo indica contato com indivíduos ou regiões de risco, e limita os lugares onde você pode entrar. Já o vermelho significa que você pode estar contaminado, e deve se isolar imediatamente. Tudo isso tem ajudado a conter a pandemia. Mas também cria uma rotina orwelliana, no melhor estilo Grande Irmão, a figura que representa o totalitarismo absoluto em 1984 – mesmo porque o governo chinês não explicou detalhadamente como o seu sistema calcula a cor atribuída a cada pessoa. E isso abre espaço para arbitrariedades: num futuro pós-pandemia, pessoas com baixa pontuação social poderiam ser punidas com um equivalente à cor vermelha, e ter sua circulação restrita, por qualquer motivo.
A Coreia do Sul, apontada como referência no enfrentamento da pandemia, também está monitorando fortemente seus cidadãos: o governo utiliza SMS para informar onde há pessoas potencialmente infectadas e os locais em que elas estiveram recentemente. Quando um caso positivo é registrado, o paciente precisa responder um questionário dizendo por onde andou e com quem esteve. E não só as pessoas que tiveram contato com ele são avisadas, mas também desconhecidos que possam ter cruzado seu caminho – como o caixa do mercado ou o motorista do aplicativo de transporte. Isso só é possível porque as respostas fornecidas pelos infectados são cruzadas com dados de cartão de crédito, do GPS do celular e, claro, de câmeras de vigilância – também comuns nas ruas coreanas. Isso também tem sido eficaz no combate à pandemia. Mas é um padrão de vigilância inédito, e que não será “desinventado” quando a poeira do vírus baixar.
O fato é que a vigilância está, sim, se espalhando pelo mundo. No dia 10 de abril, Apple e Google anunciaram que estão desenvolvendo um novo sistema de rastreamento para o iOS e o Android.
Em Israel, o monitoramento de celulares acabou dando margem a medidas mais agressivas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou o monitoramento da localização dos cidadãos. Em seguida, fechou todos os tribunais do país e passou a governar por decreto. “O coronavírus matou a democracia em Israel”, escreveu o historiador israelense Yuval Noah Harari. Ele está acostumado a lidar com o tema. Em seu livro 21 Lições para o Século 21, lançado em 2018, dedicou um capítulo inteiro ao que chamou de ditaduras digitais. “Nas mãos de um governo benigno, algoritmos de vigilância podem ser a melhor coisa que já aconteceu ao gênero humano. Mas também podem dar poder a um futuro Grande Irmão”, escreve. Para Harari, é muito provável que os palestinos já estejam sendo monitorados pelos israelenses.
Sim. É comum que, em momentos de crise, os países aprovem leis aumentando o poder do Estado. O problema, como dissemos, é que algumas dessas medidas podem se tornar eternas. Foi o que aconteceu nos EUA após o 11 de Setembro, em 2001. À época, o Congresso aprovou a Patriot Act, uma lei que autoriza o governo a espionar qualquer cidadão americano. Originalmente, ela teria validade até 2005 – mas está em vigor, com pequenas alterações, até hoje. E o coronavírus já provocou uma nova pancada do Estado nos direitos civis. Em março, o Departamento de Justiça (DOJ) procurou lideranças do Congresso dos EUA, sugerindo um pacote com ações drásticas. As medidas, que ainda não foram aprovadas, permitem à polícia prender qualquer pessoa por tempo indeterminado, sem direito a julgamento. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orban obteve poder absoluto: agora, ele pode criar e extinguir leis, sem passar pelo Congresso. O Parlamento britânico aprovou um pacote de leis, com nada menos do que 327 páginas, que aumenta radicalmente o poder policial e jurídico do Estado. As medidas foram apelidadas, pejorativamente, de “poderes de Henrique 8o” – referência a esse rei inglês, que no século 16 governou o país por decreto, seguindo apenas as próprias decisões.
Num artigo escrito em março, Yuval Harari afirma que a Covid-19 pode se revelar um divisor de águas na história da vigilância. Primeiro, por normalizar seu uso em países democráticos, como vimos aqui. Segundo, por representar uma transição dramática da vigilância sobre a pele para uma vigilância sob a pele. O coronavírus vai passar, mas o trauma que ele deixa não; por muito tempo, a sociedade conviverá com o medo de novos vírus. E isso poderá ser usado para adicionar uma nova camada de monitoramento.
No futuro, poderemos ser convencidos a usar uma pulseirinha digital, ou um smartwatch, que medirá nossa temperatura corporal e batimentos cardíacos e enviará essas informações para o governo, que as utilizará para analisar quem está ou não doente. Isso tem um lado muito positivo: ajuda mesmo a conter eventuais epidemias. A maioria das pessoas tenderia a aceitar, ignorando o lado sinistro da coisa – se o governo monitora os seus batimentos cardíacos e a sua navegação na internet, consegue saber quais notícias e textos deixam você tranquilo ou irritado. E a partir daí pode inferir, em certo grau, sobre o que você pensa. Essa capacidade, combinada com os sistemas de pontuação social, daria aos governos um poder realmente orwelliano sobre os cidadãos.


As grandes catástrofes têm o poder de acelerar a história e tornar corriqueiras coisas que antes pareciam inimagináveis. Mas, na era pós-coronavírus, a sociedade não irá mudar apenas “de cima para baixo”. Ela também será transformada em outro plano: como nos relacionamos uns com os outros.
O aperto de mãos é um hábito milenar: os registros mais antigos remontam à Babilônia, atual Iraque, por volta do século 9 a.C.
Mas, durante a maior parte da história, esse era um gesto relativamente raro, usado em situações específicas (como fechar um negócio ou checar se a outra pessoa estava armada). Apertar as mãos de todo mundo, como cumprimento universal no dia a dia, surgiu com os Quakers, um grupo religioso protestante, na Inglaterra do século 17. Para eles, o aperto de mão simbolizava a igualdade entre as pessoas, independentemente da classe social. A moda foi parar nos livros de etiqueta do período vitoriano, e acabou adotada pela maioria das pessoas. Mas nem todas. No Japão e na China, as pessoas saúdam umas às outras curvando levemente o tronco. Na Índia e na Tailândia, fazem um meneio de cabeça com as mãos sobre o peito.
O aperto de mãos não é tão universal quanto se imagina. E quando a pandemia for superada, talvez seja ainda menos. “Já é assim em outras culturas. O coronavírus tende a reforçar isso”, diz o psicanalista Christian Dunker, professor da USP e autor de A Reinvenção da Intimidade.
Também pode ser que, passada a pandemia, todo mundo volte a apertar as mãos e pronto (foi o que aconteceu após a gripe espanhola de 1918, afinal). Mas a vida não voltará ao normal tão cedo, pois dificilmente alguém sairá do isolamento com a saúde mental intacta. A questão é que o ser humano evoluiu para ser intensamente social, pois isso era (e é) uma questão de sobrevivência. O confinamento é uma surra diária que damos nesse instinto. E a mente não gosta de apanhar todo dia.
No começo de março, cientistas da Universidade de Xangai publicaram o primeiro grande estudo sobre o impacto psicológico do coronavírus. Entrevistaram 52 mil chineses, de 36 províncias e cidades. Nada menos do que 35% apresentaram transtornos psicológicos como ansiedade, depressão, compulsões e fobias (incluindo agorafobia, medo de espaços abertos). É muito acima da média clássica, que fica entre 5% e 10%. Especialistas têm previsto uma explosão nas taxas de doenças psíquicas durante a pandemia. E depois.
Vamos sair dessa bem diferentes do que entramos. Mas não apenas para pior.


Em 2016, o Dicionário Oxford elegeu “pós-verdade” como a palavra do ano. Nunca se mentiu tanto, sobre tudo.
As fake news infestaram o mundo por um motivo simples: elas funcionam. “As pessoas se identificam com aquela informação, mesmo sem fundamento. É quase uma torcida”, diz Diogo Rais, professor da Universidade Mackenzie e fundador do Instituto Liberdade Digital. A pandemia vem tendo seu quinhão de notícias falsas, mas há sinais de que a onda está começando a virar. As redes sociais deram o primeiro passo. Em março, Twitter, Facebook e Instagram excluíram posts que continham mentiras sobre o coronavírus – incluindo mensagens publicadas por chefes de Estado, como os presidentes Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro, e o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Essa censura das redes sociais, mesmo com intenção protetiva, abre um precedente arriscado. “Como sociedade, aceitamos esse controle, dada a gravidade da situação. Mas pode ser um caminho sem volta”, diz Pablo Ortellado, professor de gestão pública da USP. Também há outro fator envolvido: uma certa “pressão evolutiva”. Os indivíduos que acreditarem em mentiras, e não se protegerem contra o SARS-CoV-2, correrão maior risco de ter Covid-19 – e os sintomas pesados da doença poderão forçá-los a aceitar, na própria pele, as verdades científicas.
A primazia da ciência, por sinal, deverá ser outro eixo do mundo pós-coronavírus. Em condições normais, uma decisão ou política equivocada pode levar décadas até mostrar seu efeito negativo. Agora, não é assim: a conta chega rápido, e pode ser altíssima. “A crise pode representar uma derrota a quem se coloca como antagonista da ciência e das universidades”, diz Ortellado.
Essa mudança poderá reduzir outro elemento central da última década: a polarização ideológica. É o que acredita o psicólogo Peter Coleman, professor da Universidade Columbia e especialista em resolução de conflitos. Ele se baseia em duas premissas. A primeira é histórica: pela primeira vez em cem anos, desde a gripe espanhola, a humanidade tem um inimigo comum – o coronavírus, contra o qual todos são iguais. A outra é estatística: números mostram que eventos graves tendem a unir os povos. Uma análise feita pela Universidade de Michigan, que analisou 850 conflitos políticos ocorridos entre 1816 e 1992, constatou que 75% acabaram após o surgimento de um grande choque. Coleman cita como exemplo a política americana após a Primeira Guerra Mundial (1918), que estabeleceu uma convivência mais pacífica entre democratas e republicanos até 1980.
As eleições vão mudar, até na forma: a médio prazo, têm grande chance de acontecer online. Eleições pela internet exigiriam um período maior de votação, de uma semana ou até um mês: é a única forma de evitar que falta de energia elétrica, congestionamentos na rede (eleições online não são como votação do Big Brother, demandam sistemas parrudos de segurança) ou outros problemas técnicos impeçam as pessoas de participar. Votar sem sair de casa poderia banalizar as eleições e gerar polêmica, já que não há como recontar os votos. A solução pode estar em tecnologias como o Blockchain, um banco de dados praticamente impossível de fraudar. Ele já foi usado para que militares americanos que estavam fora dos EUA votassem nas eleições de 2018. A Estônia, um pequeno país do Leste Europeu, adota o voto online desde 2007. No Brasil, o primeiro passo nessa direção veio do Congresso Nacional, que tem votado remotamente durante a pandemia. Nossos deputados e senadores estão em home office.


Eles mais seis em cada dez brasileiros. Essa é a massa que estava trabalhando de casa em março, de acordo com a empresa de monitoramento Hibou. E muitos continuarão assim. Em 2019, 45% das empresas já permitiam alguma espécie de home office, segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Mas isso era visto como um privilégio. “Agora, passará a ser considerado um modelo de trabalho”, diz Leonardo Berto, da consultoria de RH Robert Half. As empresas irão repensar a necessidade de manter escritórios grandes e caros – o que deve diminuir o trânsito, a poluição e o consumo de energia. Mas o trabalho não será totalmente remoto. Encontros e feiras de negócios terão ainda mais força. “Serão oportunidades para a criação das redes de relacionamento, algo que o mundo virtual não oferece da mesma maneira”, afirma Berto.
Vamos sair da pandemia machucados, mas também evoluídos. E o período de isolamento extremo, paradoxalmente, pode acabar tendo o efeito contrário: reforçar a comunhão social. Foi o que aconteceu na China, primeiro país a conter a crise. Em 4 de abril, primeiro dia sem quarentena, multidões lotaram os parques, pontos turísticos e espaços públicos das cidades. As pessoas estavam desesperadas para sair de casa. Mas também celebrar, numa apoteose coletiva, o único desfecho aceitável: a vitória da humanidade sobre o vírus.
(Superinteressante – Abril)