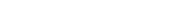Assisti recentemente ao filme “O Insulto” e ele ficou ecoando em mim por dias.
A história se passa no Líbano e começa com uma situação simples: Tony, um cristão libanês, se desentende com Yasser, um refugiado palestino, por conta de um encanamento irregular em um prédio.
Acontece ali troca de palavras duras e nasce o orgulho ferido. A recusa de ambos em ceder transforma um conflito de vizinhança em um processo judicial de repercussão nacional.
Ao longo da trama, o que está em jogo já não é mais o cano ou o pedido de desculpas, mas tudo o que ficou mal resolvido entre duas culturas, duas guerras, duas histórias.
A banalidade inicial do conflito é o que mais impressiona porque mostra o quanto estamos todos sujeitos a reagir de forma desproporcional diante de impasses cotidianos. Mostra como pequenos gestos podem adquirir uma dimensão que ultrapassa o fato em si, especialmente quando falta escuta, ponderação e disposição ao diálogo.
Foi impossível não lembrar do episódio que recentemente tomou conta das redes sociais: a discussão entre uma magistrada e um promotor de justiça, durante uma sessão do júri, por causa da cadeira ao lado do juiz.
A sessão foi suspensa e o caso virou pauta nacional e aí surgiu a indagação se talvez com uma simples conversa, o conflito pudesse ter sido contornado de outra forma.
Não me interessa aqui entrar no mérito individual de quem tem mais ou menos razão. Prefiro olhar com olhos mais amplos: como cidadã, advogada, mulher e profissional do sistema de Justiça.
Como defesa, vejo com bons olhos o fato de a juíza ter trazido à tona uma questão importante: a ausência de paridade de armas entre Ministério Público e defesa na sessão do júri, sobretudo quando o Ministério Público, na condição de parte, ocupa um lugar simbólica e fisicamente privilegiado ao lado do juiz e quem é criminalista sabe que essa simetria pode comprometer, em certos contextos, a percepção de isenção e equilíbrio.
Como mulher, quem me conhece sabe que recuso rótulos fáceis. Não considero que todo conflito que envolve uma mulher deva ser automaticamente classificado como violência de gênero. O combate ao machismo exige firmeza, mas também responsabilidade. Quando tudo passa a ser enquadrado sob essa ótica, corre-se o risco de banalizar uma pauta que é, antes de tudo, séria, urgente e sensível.
Como cidadã, lamento que um impasse funcional tenha interrompido uma sessão do júri, espaço que deve ser preservado como expressão máxima da justiça democrática. O Ministério Público poderia ter dialogado e buscado alternativas, mesmo diante do direito que lhe assiste. Se a cadeira estava ocupada, bastaria uma conversa, um ajuste, um encaminhamento interno.
A magistrada, por sua vez, poderia ter conduzido a situação com mais neutralidade e serenidade. Sua posição como presidente da sessão exigia um olhar conciliador. Evitar a exposição pública do impasse talvez tivesse preservado o ambiente institucional e o foco no julgamento em curso.
Por outro lado, se havia um histórico de desentendimento entre os dois, esse deveria ser tratado pelas vias administrativas apropriadas e não diante de jurados, réus, vítimas e cidadãos.
Tenho profundo respeito pelas instituições e não poderia ser diferente.
Uma história contada por um magistrado certa vez me marcou profundamente: ele relatou que, em uma audiência, ao entrar na sala, apenas um advogado, já muito experiente e renomado, se levantou. Os demais permaneceram sentados. Curioso, um deles perguntou depois por que ele havia feito aquilo, já que não era mais costume reverenciar juízes daquela forma. A resposta foi simples e inesquecível: “Eu não reverencio a pessoa, eu reverencio a Justiça e neste momento, o juiz representa a Justiça. ”
Levei esse aprendizado para a vida, desde então, compreendi que mais importante do que quem ocupa o cargo, é o que aquele cargo representa diante da sociedade.
Um promotor, com quem dialoguei sobre o caso, me disse algo relevante: “Não se abre mão de prerrogativa sob pena de se escancarar as portas do abuso.”
Concordo até a página dois. Como advogada, entendo que prerrogativas devem ser respeitadas e protegidas, eis que não são privilégios pessoais, mas garantias funcionais. Por isso mesmo, sua aplicação deve ser orientada não apenas pela legalidade, mas também pelo contexto e pela razoabilidade.
Todavia, apesar de um primeiro momento pensarmos que prerrogativas são inegociáveis, sou uma pessoa relativista, pois entendo que nada é absoluto no Direito, portanto, nenhuma prerrogativa é absoluta. Acredito que há formas institucionais de afirmar direitos sem transformar divergências em embates expositivos.
E aí volto ao filme O Insulto. Toda a trama poderia ter tomado outro rumo se um dos personagens tivesse escolhido escutar, se tivesse respirado antes de reagir, se tivesse considerado o impacto coletivo antes da dor pessoal.
A Justiça é feita de técnica, sim, mas também de postura. Ela exige de cada um de nós a responsabilidade de saber que nem tudo precisa ser levado ao extremo, que muitas vezes, o gesto de recuar, escutar ou acomodar não enfraquece, pelo contrário, fortalece.
No final das contas, o episódio no plenário não foi sobre uma cadeira e nem sobre prerrogativas, foi sobre decisões, sobre a importância da escuta institucional, sobre como a Justiça, mais do que qualquer prerrogativa, deve sempre ser preservada.
Nunca é sobre o cano, sobre a cadeira, é sobre escuta e diálogo.
E é isso que penso, com a consciência de quem vive o cotidiano forense há mais de duas décadas: a Justiça é maior do que nossas diferenças, é maior do que nossas funções, é patrimônio da sociedade. E por isso, deve ser cuidada com respeito, responsabilidade e sobriedade. Preservar sua integridade é, para mim, mais do que um dever funcional, é um compromisso moral.
Sâmara Braúna é advogada há 24 anos, criminalista, especialista em liberdade, garantias constitucionais, em violência de gênero e crimes sexuais. Pós-graduada em Direito Penal. Conselheira Estadual OAB/MA e representante da OAB/MA no Comitê de Políticas Penais do Estado do Maranhão.