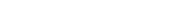A seleção de 94 ganhou, mas…” Quantas e quantas vezes não vimos o comentário acompanhado da conjunção adversativa? “Mas era retranqueira, mas era burocrática, mas o Romário carregava o time nas costas, mas o Zinho girava feito enceradeira…” Nada como o remédio do tempo. Durante este período de quarentena, compulsória e necessária, os jogos da campanha do tetracampeonato foram reprisados à exaustão pelos canais esportivos. Como costuma ocorrer, o distanciamento histórico (e, neste caso, a leveza de quem já sabe como o filme termina) nos fez olhar para aquele time sem o ranço do passado. Bateu até saudade, vejam só. O time montado por Carlos Alberto Parreira pode não ter sido um esquadrão genial como o de 1970, nem espetacular como o de 1982, mas foi a mais “moderna” e “europeia” seleção que já tivemos.
Os 24 anos de fila desde o tri no México eram um fardo pesado. “Esse jejum criou um ambiente quase irrespirável”, recorda o ex-volante Mauro Silva, um dos alvos principais das cornetas. “Até hoje muita gente confunde time organizado com time defensivo. Mas o importante é que isso não nos atrapalhou”, diz hoje Parreira, que também reviu as partidas em sua casa, em Angra dos Reis, e se surpreendeu. “Que coisa linda foi nossa semifinal contra a Suécia, eu não lembrava que tínhamos dominado tanto o adversário.” Parreira era impopular, mas tinha fortes concorrentes em campo. Um deles era justamente seu homem de confiança: Dunga. O volante era uma espécie de símbolo do jogo que a torcida dizia não suportar. A conotação negativa da “Era Dunga”, no entanto, chegou ao fim em solo americano. O capitão foi um dos pilares da equipe. Fundamental não apenas nos desarmes, mas também na organização do meio-campo. Tanto que Dunga é até hoje o segundo jogador com mais passes certos em uma edição do Mundial — 589, dez a menos que o recordista, o espanhol Xavi Hernández, em 2010.
“Diziam que éramos defensivos, mas nosso time sempre buscava o gol adversário, era objetivo, triangulava, errava poucos passes”, diz Dunga. “Quantas vezes nossos volantes atuais jogam a bola para trás ou para o lado? No chamado ‘futebol moderno’ quem mais fica com a bola são o zagueiro e o goleiro.” Naquele tempo, assim como agora, o torcedor sentia falta de um camisa 10 autêntico. “O papel que já coube a Pelé, Rivellino e Zico, desta vez deveria ser, sem vacilações, de Raí, mas a longa má fase do ex-craque do São Paulo cria insegurança”, “previu” PLACAR em seu Guia do Mundial de 1994. De fato, o ídolo tricolor, que iniciou a copa com a braçadeira de capitão, decepcionou e perdeu a vaga para Mazinho a partir das oitavas, contra os Estados Unidos. Ao contrário das expectativas, o novo quarteto de meio-campo“encaixou”. Todos marcavam, deixando Romário e Bebeto mais liberados, mas também participavam da criação, de forma mais cadenciada.
“Algumas pessoas reclamavam que o time tocava demais a bola, mas é preciso lembrar que a maioria dos jogos foi na Califórnia, num calor de quase 40 graus”, diz Mauro Silva. “Ter o controle do jogo fazia parte da estratégia. Éramos, de fato, uma seleção pragmática. Mas naquele contexto não era algo ruim.” Antes mesmo de encerrar o jejum com uma vitória nos pênaltis, após 120 minutos sem gols diante da Itália de Roberto Baggio, aquela seleção brasileira já tinha sido reverenciada por um gênio da bola. Johan Cruyff, o craque da Laranja Mecânica e inventor da filosofia do “tikitaka” do Barcelona, revelou sua torcida pelo time de Parreira em uma coluna publicada pelo jornal Folha de S.Paulo antes da final. “Nunca mostrei tão abertamente minhas preferências, mas agora é diferente. O futebol não é só conservar a bola ou escondê-la. O futebol é manter o controle da bola para buscar o gol. Só o Brasil fez isso. E, por isso, agora que o título está em jogo, quero que ganhe esta opção pelo futebol-espetáculo.” Como sempre, Cruyff enxergou antes.
Eu não falei?
Fábio Altman
Foi difícil convencer o treinador Carlos Alberto Parreira a autorizar que entrasse em seu quarto, na concentração de Los Gatos, para saber o que estava lendo — um livro de gestão de empresas — e como andava seu humor às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 1994, contra a Rússia. Mais difícil ainda foi conviver com o educadíssimo e contido mau humor do homem depois que lhe enviaram, por fax, a capa da revista VEJA com a reportagem que eu fizera com ele e a seguinte chamada: “O Itamar da Seleção”.
Era uma provocação, uma brincadeira, um modo de comparar o jeitão pacato, insosso até (e muito criticado) do então presidente, Itamar Franco, com o estilo organizado e disciplinado, mas sem brilho, de Parreira. Sempre que nos encontrávamos à beira dos campos de treinamento ou depois dos jogos, naquele verão americano, e não foram poucas vezes, sabendo que eu era um dos enviados de VEJA aos Estados Unidos, e com a seleção avançando, vencendo e empatando, ele sorria e fechava o ricto com uma frase: “Eu não falei?”.
Sim, falara. Mas quem apostaria naquele time antes de começar a campanha no acanhado estádio da Universidade Stanford, apesar do empenho do treinador, apesar de Romário? Muito poucos. E o Itamar da Seleção entrou para a história com o tetra, o homem que montou um time que o tempo tratou de melhorar.
Publicado na PLACAR de abril de 2020, edição 1462
(Abril)